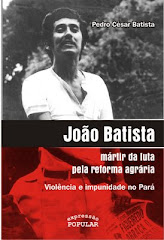O que há de novo!
-----------------------------------------------------------------------------
Resenha do romance Memórias quase póstumas de um ex-torturador, produzida por Lali Leal e publicada em sua página pessoal (http://devaneiosapoeticos.blogspot.com.br/)
Há mais de uma coisa que chama a atenção logo no título deste
livro. A referência à célebre obra de Machado de Assis é a primeira; o fato de
ser “quase” póstumas é a segunda; de serem memórias de um ex-torturador é a
terceira e mais intrigante, afinal, o que haveria de se procurar nas memórias
de um agente da violência dosporões da Ditadura que se poderia lhe aproximar em
título a Brás Cubas?
O fato é que nem quem for procurar neste Memórias quase póstumas um relato “sério” da página negra
da história político-social brasileira nem quem for apenas em busca de um
paralelo direto com o Memórias
póstumas machadiano o
encontrará. Se o livro se abre com uma intertextualidade latente no título,
logo ao início não se a acha, mas percebe-se uma narrativa em que o
personagem-narrador escracha-se, vulgariza-se, porém, mesmo falando no passado,
não tem a ciência nem a leveza de um morto. O autor não tem a audácia de
Machado invertendo a narrativa - do final para o início, e ainda intercalando
as reflexões - , conta sua história assim como estamos acostumados, do início
para o seu fim que, lembramos, ainda não é fato, mas é previsto pelo tumor
descoberto no cérebro. Mas a conta em fluxo de consciência a Deus e ao Diabo,
que o visitam para o acerto de contas final, embora o ex-torturador tenha
certeza de a quem pertence sua alma... E é desse encontro ironizado que se
denota o mérito da obra: aqui estará a profanação da tradição cristã na troca
de papéis (a que eles estabelecem por brincadeira com o ex-torturador e a que o
autor lhe confere pelo discurso) entre o filho sacrificado e o anjo decaído,
estará o seu não arrependimento latente, a sua avaliação altamente subjetiva da
ditadura, as análises, analogias, metáforas grotescas e originais de toda a sua
vida não-direcionada, de seu fim na velhice mas há muito numa vida sem rumo.
Aqueles primeiros leitores a que me referi, que procuram o “relato
sério”, rejeitarão a obra como um dia rejeitaramAlegria,alegria de Caetano e Quarup de Antonio Callado. Mas, como também
aconteceu com estes, poderão voltar atrás e perceber nessa voz do ex-torturador
não redimido as chaves para a compreensão e a crítica do pensamento da
repressão violenta que não podemos deixar cair no esquecimento: a trágica (e
muitíssimo grotesca) história da infância de Pedro, nosso ex-torturador, pode
ser lida muito mais do que como uma “desculpa psicanalítica” para o
inexplicável, mas como o próprio absurdo da violência pela violência, como o
alerta para nossos próprios atos, como uma metáfora de um país arcaico em seu
comportamento... e, por que não, como a ignorância (a do ridicularizada.
Da mesma forma, a subjetivação da análise das ditaduras – e esse é um dos
pontos históricos mais bem alinhados do texto: o torturador da Ditadura militar
aprende seu ofício na Era Vargas... – atravessa o superficial maniqueísmo e
toca muito menos pelo abjeto das torturas, pois ele quase não penetra essa
descrição, do que pela naturalização da conduta violenta, que se torna a sua
própria razão de existir.
Mas a narrativa de João Bosco Maia também guarda
surpresas. Se passamos a história toda tentando odiá-lo ou tentando redimi-lo,
em qualquer alternativa somos frustrados, seja pelas suas memórias ou pelo seu
discurso espirituoso, no entanto, o que não podemos esperar é que no meio de
tanto desprezo haja algum sentimento de culpa, não pelos que torturou e pelo
famoso jornalista que foi sua única vítima fatal, mas por aquelas a quem fez
mal indiretamente... (o leitor que não gosta que lhe contem os finais, pode
ficar feliz que não o farei, mas pode ficar frustrado porque nada mais para ele
será uma surpresa). Talvez os mais exigentes considerem esta “surpresa”
incipiente, forçada, nada original... eu digo que se enquadra bem na proposta
nada audaciosa ou realista, mas bem humorada e irônica da narrativa, dosada no
grotesco e justificada nas amarras textuais. Ao gosto contemporâneo ou
pós-moderno, como queiram. E não deixa de estar nisso uma aproximação com
aquelas primeiras memórias póstumas de nossa literatura, no humor ácido e no
encontro com o seu lado relegado em vida, que no caso dessas novas memórias, da
mesma maneira nada louváveis, leva a ver nosso ex-torturador com ares de triste
demente. Aliás, cabe bem um sujeito meio “esquizofrênico” numa narrativa
marcada de um pastiche da nossa já tão pastichizada realidade.
Lançamento do Prêmio IAP de Artes Literária –
Edições Culturais de 2012
O
Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Promoção Social e do
Instituto de Artes do Pará, promoveu o lançamento e noite de autógrafos
dos livros contemplados com o PRÊMIO IAP DE ARTES LITERÁRIAS - EDIÇÕES
CULTURAIS, com os seguintes títulos e autores: a) 666 - O tragicômico percurso
(Romance), de João Bosco Maia; b) I-Nome-Nada (Poemas), de Harley Farias
Dolzane; c) Ave Eva (Contos), de Daniel Rocha Leite, d) Amazônia, Cidade e
Cinema em Um Dia Qualquer e Ver-o-Peso (Ensaio), de Relivaldo de Oliveira; e)
Senhora de Todos os Passos (Romance), de Carlos Correia Santos; f) Crisálida
(Poemas), de Eliane Pereira Machado Soares; g) A Festa dos Mortos (Contos), de
João Loureiro Junior; h) Os vândalos do Apocalipse e Outras Histórias (Ensaio),
de Aldrin Moura de Figueiredo.
Na ocasião foi lançado o edital do
Prêmio IAP de Artes Literárias - Edições Culturais 2012, que ja
encontra-se disponivel no site do Instituto de Artes do Pará. Este
ano terá oito categorias: Romance, Poesia, Contos, Ensaio, Dramaturgia,
Memorialística, Livro-Reportagem e Infanto-juvenil.
Eliane Pereira Machado Soares (Crisálida)
Aldrin Moura de Figueiredo (Os vândalos do Apocalipse)
Aldrin Moura de Figueiredo (Os vândalos do Apocalipse)
João Loureiro Junior (A festa dos mortos)
Carlos
Correia Santos (Senhora de todos os passos)
Daniel da Rocha Leite (Ave Eva),
Harley Dolzane (I-Nome-Nada)
-----------------------------------------------------------------------------------
Leia abaixo o I Capítulo de
_ImgID1.png)
Estávamos ali no início de abril do ano de 1988.
Quando a sirene anunciou com o seu terceiro apito o momento da partida, ajeitei o xale em torno do pescoço, protegendo-me do frio gelado e uivante que vinha do breu do oceano, e debrucei-me instintivamente sobre a amurada do navio. A noite, caminhando suas nove em ponto, em conformidade com a hora de saída marcada no bilhete de passagem, se espalhava imperiosa pelo mundo, permitindo apenas que as luzes amareladas e um tanto melancólicas da embarcação e dos postes do cais abrissem uma clareira e iluminassem aquele espaço destinado aos que partiam - nós que iríamos atravessar o Atlântico-, os que se despediam lá embaixo e também um pedacinho do mar que se encrespava indolente contra o muro de arrimo. O porto de Santos era enorme e moderno, mas a escuridão e o silêncio nos navios fundeados vizinhos, à frente e atrás, davam a impressão de que nos encontrávamos sozinhos naquela parte da cidade. Não havia ameaça de chuva - talvez até ela caísse mais tarde, quando já estivéssemos em pleno curso -, mas o céu estava sem qualquer estrela. Muito mais além do cais, já próximo aos primeiros edifícios, os faróis de um ou outro carro cruzavam lentos a quietude das ruas, como se fossem pequenos vaga-lumes ciscando na escuridão. Apesar do vento frio sibilante, a noite acompanhava serena a troca de aceno entre os que se despediam. Eram os derradeiros acenos – reafirmava isso agora o eco do terceiro apito.
Eu observava tudo do alto do segundo convés.
Longe de ser um daqueles transatlânticos de luxo que apareciam nas propagandas das revistas, mas de um discreto conforto, o nosso navio, já alforriado das cordas e das correntes que o ligavam às pelotas de ferro do cais, bem como da prancha por onde há pouco passara o carregador conduzindo ligeiro as malas de uma freira retardatária – oh, como elas estavam em todas! -, começava a se desgarrar do continente, obedecendo à marcha lenta dos motores e ao acalanto das águas. Eu, pelo menos, sem gestos, começava a dar adeus para sempre ao Brasil...
Ao contrário dos outros passageiros, também disputando discretamente com os cotovelos o mesmo espaço que eu naquele longo muro de ferro que circundava o convés, embora estivesse com os olhos direcionados para o povo lá embaixo, não conseguia enxergar aquela gente que gesticulava os braços e os lenços e que naquele instante começava lentamente a se desprender de fato dos que partiam para a Europa. Não conseguia enxergar aquele povo ali pois a minha visão teimava em retornar, assim como fizera por muitas vezes, em muitas noites e, dentro delas, em muitos sonhos, a um outro momento de partida na minha vida. Por ser tão semelhante na essência, ainda que fossem outras as pessoas, ainda que as roupas, as luzes, o lugar e obviamente a tecnologia que envolvia a navegação há exatos cinqüenta e oito anos fossem inteiramente diferentes, aquele momento que emoldurava os meus idos vinte e dois anos, no cais do porto da cidade de Málaga, na região de Andaluzia, na Espanha, saltava com incrível nitidez à minha frente. Ah, lá estavam as senhoras Marguerita, Analia e Marieta Sánchez, todas com o seu leque frenético ocultando-lhe a face para evitar talvez o reconhecimento público, e, bem mais atrás, vestido na sua roupa de coronel, para evitar qualquer suspeita do relacionamento com as Sánchez ou com as outras moças embutidas discretamente na segunda classe do navio, achava-se o senhor Francisco Arrigo, comandante do Exército na cidade de Málaga. Lá se achavam todos eles novamente, naquele ido começo de setembro de 1930, como uma fotografia estática mas que possuía o poder de congelar os rostos e permitir os mínimos detalhes de movimento do resto do corpo. Ah, lá estavam eles outra vez, inquilinos das minhas lembranças, nesse mesmo cais do meu passado distante, onde o funcionário público acabava de pôr fogo no óleo do último dos seis postes, enquanto o meu navio, também após o terceiro apito, começava a partir para as longínquas e pouco conhecidas Américas. Em meio ao cheiro da maré espanhola, que agora retornava às minhas narinas, longe da Calle de la Perdición, onde elas imperavam sem ter de esconder o rosto por trás de nenhum disfarce, as três Sánchez, duas senhoras e uma senhorita, permitiram-se baixar o leque e esticavam a mão negra enluvada num aceno para mim. Em pé, à porta do carro do governo, onde um motorista o aguardava, o coronel fazia o mesmo gesto.
- Com licença... – disse-me subitamente uma voz feminina atrás de mim, interrompendo-me as recordações.
A mulher me tocou o braço, enquanto eu virava, deixando o cais iluminado já a uma certa distância. Instintivamente, apertei a alça da frasqueira onde viajavam duas cartas, as minhas jóias, um cartão-postal de Málaga, meu cartão de crédito, algum dinheiro e o meu inseparável batom. Tratava-se da mesma freira que havia chegado atrasada para o embarque. Devia ter uns setenta e poucos anos; setenta e cinco, se muito. O seu rosto ovalado de pele muito morena, pontilhado por um grupo de manchas nas bochechas, estava emoldurado pelo véu negro. Atrás dos pequenos óculos redondos, os dois olhinhos pareciam se espremer em busca de alguma resposta que pareciam acreditar que estava oculta na minha face.
- Desculpe-me – tornou ela, aproximando mais de mim -, mas a senhora não é a...
- Nom – interrompi-lhe eu. – Acho que a senhora está fazendo alguma confuson – completei, apertando mais ainda a alça da frasqueira em minha mão.
- Mas é incrível... até a voz, o sotaque... tudo parece igual...
- Desculpe-me, mas acho que a senhora está me confundindo com alguma outra pessoa. Com licença, pois tenho que me recolher a meu camarote – fui-me retirando.
Sem olhar para trás e nem mais para as luzes do cais, e com a convicção de que nunca tinha visto aquela mulher na minha frente, tomei a direção da escada que conduzia ao primeiro convés, onde ficavam os camarotes da segunda-classe. De soslaio, percebi que as luzes da cidade de Santos iam encolhendo, agrupando-se mansa e irreversivelmente, como se fossem o reverso do universo em expansão, tal qual eu vira a simulação da criação de toda a matéria disseminada no espaço num desses documentários de televisão. Sim, sim, aquele era o meu “big-bang” ao contrário, do qual, ao invés de ser tragada para o núcleo, eu era penalizada a vagar errante pelo limbo de um oceano vazio...
Por sorte, a mão de um homem me salvou do meio desses pensamentos tétricos, ou impuros, como frisaria minha abuela. Vestido em seu fraque grená, ele tomou-me das mãos a frasqueira e auxiliou na descida dos meus oitenta anos ao andar debaixo.
- Por aqui, senhora – complementou solícito o funcionário da empresa de navegação.
- Muito grata – agradeci-lhe.
- Quer que eu a leve até seus aposentos, senhora?
- Muito obrigada, mas eu ainda consigo caminhar sozinha – agradeci-lhe novamente, tomando agora com os meus passos lentos a direção do meu camarote, o nº 20, onde eu havia estado durante o final da tarde, na hora marcada para o embarque e quando os carregadores alojaram ali as minhas duas malas numa prateleira na parede e um outro funcionário, vestido com o mesmo fraque do que me auxiliara há pouco na escada, vistoriava o meu bilhete de passagem. Subitamente, como se eu não tivesse o que lembrar, a imagem da recepção da tarde insistiu em ficar na minha cabeça:
- Fique à vontade, dona Lorena Sánchez – dissera ele com a mesma gentileza. – O banheiro está atrás dessa porta. A sua cama é esta da direita, a debaixo. Como o camarote não lotou, a senhora terá a companhia de apenas mais uma pessoa. Daqui para pouco deverá chegar aqui a sua companheira de viagem. Ela lhe fará companhia até à cidade de Málaga, seguindo viagem depois para a Itália. O navio larga o porto às nove horas. Enquanto isso, a senhora pode conhecer o resto das instalações, os restaurantes, as lanchonetes, as salas de jogos... Enfim, há uma gama de opções para tornar a sua viagem bem mais agradável. Se precisar de alguma coisa, nós estaremos por aqui em volta. É só chamar. Boa viagem!
Ao entrar de volta ao camarote, depois que acendi a luz, observei que havia apenas uma maleta e uma valise ao lado das minhas malas. De mais diferente daquele momento primeiro em que eu tomara o meu banho, arrumara algumas roupas nas cruzetas que eu havia julgado a mim destinadas e pusera-me a circular pelo resto do navio, esperando a hora da partida, apenas uma bíblia repousava sobre o travesseiro da cama inferior do beliche, à minha esquerda. Devagar, sentindo o leve trepidar dos motores sob meus pés, caminhei para as minhas malas e de dentro de uma delas retirei a minha camisola. A longa espera, do embarque à hora da partida, me havia deixado muito cansada. Troquei-me ali mesmo e tomei os meus compridos para pressão-alta e para dormir. Mais do que nunca, por causa da falta da convivência com minha cama macia durante os últimos vinte e dois anos, eu iria precisar desse último, ele que me acompanhara fielmente no passar desse mesmo período de pouco mais de duas décadas em que relutei sem progresso a me acostumar a dormir naturalmente durante a fase da noite. Nunca consegui mudar o meu relógio do sono, cuja corda fora ritmada desde cedo para fazê-lo apenas quando o sol despontasse.
Após engolir os dois comprimidos, fui ao vaso, urinei, retornei sem apagar a luz do banheiro e me deitei na cama indicada pelo meu anfitrião no decorrer da tarde. Ato contínuo, mastigando um saboroso e raro bocejo, embrulhei-me dos pés à cabeça e encerrei o expediente dos olhos, arriando as pálpebras e esperando o sono chegar. Lá de fora, do andar de cima, como haviam anunciado pelo sistema sonoro de comunicação, começava a chegar a música do salão de baile da primeira classe. Como estávamos sob bandeira espanhola, embora a tripulação, como eu me certificaria depois, fosse miscigenada, a música tocada era flamenca, coisa que há muito eu não escutava. Com isso, logo me vi irremediavelmente arremessada àquela noite em que, aos catorze anos, fui carregada nua sobre um belo tapete persa. A música parecia embalar o “tapete voador” cujas pontas eram sustentadas por quatro mulheres igualmente nuas. Adiante, uma outra, esta vestida à maneira malageña, rodopiava em torno do incomum andor com seu largo vestido vermelho e negro folhado, fazendo soar as castanholas que conduzia nas mãos. Com uma rosa vermelha presa aos longos cabelos negros enrodilhados num coque atrás da cabeça, ela fazia peripécias em cima de seus sapatos de salto alto e com eles extraía um som do calçamento que se harmonizava com a percussão das castanholas. Mais atrás, enquanto eu era levada por uma passarela que ligava o La Escalera ao seu leque de apartamentos ao fundo, fazendo consumir em uma das mãos um incenso indiano, dois homens comandavam o cortejo dedilhando as suas entusiasmadas guitarras. Um terceiro, dadas as peripécias que fazia com o violino e seu arco, parecia dividido em acompanhar a música e ser ao mesmo tempo parceiro da solitária dançarina. As notas da música do povo andaluz, que intimamente se ligavam à fumaça do incenso, apropriavam-se do trono da noite, depondo-lhe a rainha e promulgando naquele ligeiro espaço de tempo o apaziguamento do temor e do nervoso dentro de mim. Por uns segundos, vi-me inebriada por aquela magia e nem percebi que passava por uma guarda de seis velhos oficiais do Exército espanhol à minha direita. Dos borzeguins para cima, estavam todos nus e me reverenciavam militarmente com suas espadas à altura da testa. Fui passando, com o meu cheiro de ervas e sândalo. Conduziram-me à porta daquela que eles denominavam entre si de “suíte presidencial”, embora nenhum presidente jamais estivesse estado ali. No batente da porta, a dançarina fez os seus últimos rodopios e estancou sincronicamente os seus movimentos com os acordes das guitarras, do violino e com o som dos sapatos e das castanholas sobre sua cabeça, extraindo dessa vez um entusiasmado “olé!” da guarda de honra e das minhas inusitadas damas eunucóides.
- Faça como mamãe e vovó lhe disseram – recomendou-me ela ao meu ouvido. – Não esqueça de que o dia de hoje equivale a pelo menos um mês em que a casa ficará sem pagar a tarifa. Hoje você é rainha e pode tudo. Vá com deus – concluiu, batendo na porta. – Coronel, o seu presente chegou!
Nesse instante, a porta se abriu e eu só pude enxergar a penumbra lá dentro. As quatro mulheres me fizeram entrar, arriaram lentamente o tapete ao chão e saíram na mesma pisada, fechando a porta e deixando agora o ambiente em total escuridão; ou melhor, apenas com o pontozinho vermelho do incenso que se consumia em minha mão. Eu fiquei de joelhos e estou certa de que escutei as batidas do meu próprio coração. Mas, lá fora, os acordes dos instrumentos, tão iguais aos que tocavam nesse momento no convés acima, voltaram a se apoderar da noite. Só não escutei de volta as castanholas nem os sapatos da dançarina de vermelho – minha mãe.
Um barulho, de repente, me resgatou do passado e me trouxe a atenção para a porta do camarote. Era o som da chave rodando na fechadura. Em silêncio, sem me virar do lado da parede, nem tirar o lençol da cara, onde apenas o nariz e a boca mantinham contato com o ambiente, ouvi a minha companheira de viagem entrar. Abri levemente os olhos na intenção de enxergar através do tecido a claridade da luz; mas ela não a acendeu, preferindo talvez, para não me importunar, guiar-se pela réstia de luminosidade que escapava da lâmpada que eu deixara ligada no banheiro. Para ali, depois que lhe ouvi os leves passos se encaminharem para a prateleira de malas, a mulher se dirigiu. Escutei-lhe escovar os dentes, urinar, dar descarga no vaso e voltar para deitar-se na sua cama. Por fim, na mesma posição em que me encontrava, adormeci escutando um sibilar de lábios longínquos entre a pausa nas notas da música que vinha do alto e do meu passado. Acho que ela estava rezando.
Sobre A pedra de Babel, de Edilson Pantoja
 É possível que o maior dos dilemas humanos seja a solidão involuntária. E, se o deserto lhe servir de invólucro, ou de mera sentinela, cai por terra esse resquício de incerteza, pois a aridez de ambas as partes se fundem num esmero tal que apenas a mão compadecida dos enfileirados e lentos segundos podem abrandar.
É possível que o maior dos dilemas humanos seja a solidão involuntária. E, se o deserto lhe servir de invólucro, ou de mera sentinela, cai por terra esse resquício de incerteza, pois a aridez de ambas as partes se fundem num esmero tal que apenas a mão compadecida dos enfileirados e lentos segundos podem abrandar.
Mas daí, sem que ninguém explique, do centro dessa agonia quieta, do centro dos delírios, das miragens, dos fantasmas, das alucinações, da ossada das perguntas sem respostas, brotam os paradoxos que ganham o vento, sobem dunas, se embolam nos feixes secos de capim e chegam a movimentar, aqui, ali, acolá, passando mares, o destino das solidões das gentes de todo canto, através dos tempos. Ora, acrescentando aí o flagelo de jejum, não foi de menor solidão ou de deserto diferente que emergiu o jovem e perdido Sidarta lá pelos confins da Índia à cata de uma verdade cuja herança põe no mesmo caminho um monte de gente daquele lado de lá do planeta. Assim também passaram ali as sandálias de Gandhi. E não foi de outra férrea fundição que Zoroastro sentou as bases para que, muitos anos mais tarde, um homem chamado João, o Batista, atravessasse na cintura o alforje de sua companhia consigo mesmo e fosse clamar no deserto a vinda daquele outro, o Nazareno, o que fugiria amiúde e só para esse mesmo mar de areia, às vezes por quarenta dias e quarenta noites, subindo e descendo montanhas, e dali retornasse com nenhum trapo de resposta nos braços, mas convicto de que seu pai, a perfeição avistada das janelas dos cumes, no rebanho de estrelas, na corcova das nuvens, nas retinas tortas de uma raposa, o estava a esperar com um trono, ainda que a chave da porta fosse uma crucificação.
Todo escritor, em atividade de ofício, é a solidão por excelência. À frente, nada mais do que o grande avarandado de areia da literatura, em cujo círculo sem fim de horizonte se procurará os gravetos de palavras, em que, aquecendo a si próprio, se amparará o iminente paradoxo da criação.
Não desigual à rota de um Gautama, Lao Tse, Zaratustra, Batista, Jesus - movendo o mundo de cá -, de Maomé - articulando o mundo do meio -, e da mão do escritor em exercício de solidão, Edilson Pantoja traz o velho e solitário marinheiro, de um mar que já não existe, para confrontar-se com o deserto e aí descrever, com habilidade e tato, o encontro do mais cruel dos tormentos com o árido consolo do nada. Entre os dois, parcial sempre para o nada, ergue-se o velho farol – ou a montanha que deu escada aos efeitos da solidão do Nazareno? -, donde se projeta a visão à escassez da busca, donde se projetam os sentidos todos, que, no ápice de qualquer solidão ativa, se embaralham e lá, em geral, confusos, difusos, moldam a mão que os extrairá do suplício, seja em forma de um pai, que tira os pecados da alma do mundo, seja em forma de Adeleine, que os põe de volta no mundo da alma, mas gratifica com o mesmo suposto trono da redenção.
É assim a Pedra de Babel construída por Edilson Pantoja...
Vê-la a partir de sua construção narrativa externa que quebra os tópicos visíveis do onde, quando, por quê, quando, para quê, quem etc, não é novidade, mas Edilson Pantoja toma como poucos esse caminho mas denso, ainda que não haja árvore no deserto, para dizer de um personagem sem rosto, sem cor, sem nome, com descendência num mar que já não há, em meio a um cenário e a um tema que, em verdade, não são respectivamente as dunas e o transitar de um solitário lá fora, mas uma espiral de degraus em que descem os passos da solidão cá dentro. Compreender esse monolítico monumento a essa solidão fundida ao estéril, no seu foco interno, é se deixar aportar nesse navio sem cais, cujo único ente “vivo” a dar um sinal à âncora é um velho farol, no qual se sobe, desce, sobe... e se tenta inutilmente traduzir os inúmeros idiomas que brotam do eu e das bocas que se espraiam invisíveis além. Eis aqui, para mim, a razão do título do engenhoso romance.
E, do paradoxo dessa fusão, nasce o bom da arte literária a nós - solitários leitores por excelência.
305 livros grátis!!!
- ver as grandes pinturas de Leonardo Da Vinci;
- escutar música em MP3 de alta qualidade;
- ter acesso as melhores historinhas infantis e vídeos da TV Escola, entre outros.
O Ministério da Educação disponibiliza tudo isso. Basta acessar o site:
Exemplos:
--------------------------------------------------------------------------







_ImgID1.png)